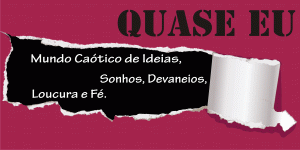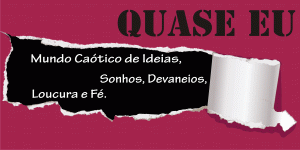 Às vezes penso na vida. Na essência das coisas. Talvez ache que a vida é um caminhar em direção a nós. Ao que há de melhor e pior em nós. Talvez ache que ao nos descobrimos encontramos algo diferente de nós, e parecido com Jesus. Talvez.
Às vezes penso na vida. Na essência das coisas. Talvez ache que a vida é um caminhar em direção a nós. Ao que há de melhor e pior em nós. Talvez ache que ao nos descobrimos encontramos algo diferente de nós, e parecido com Jesus. Talvez.
Mas sei que quem quiser viver tem que ter vida. Esta vida intrinsecamente dinâmica, bela, pulsante, rica. Bela e aterrorizante. Com temor e tremor, disse Paulo, não por medo, mas pelo extraordinário, intenso, imenso.
Vida.
Cada segundo explodindo de sons, cores, cheiros.
Cada momento pode ser sentido.
Cada momento tem sentido.
“Quase Eu” é uma caminhada.
“Quase Eu” é uma busca. É a procura por vida, por amor, por Cristo do Evangelho.
“Quase Eu” é um encontro. Comigo, com almas livres, pares da mesma cruzada.
“Quase Eu” é a espada em punho, coragem!
É navegar no imenso e desconhecido.
Acompanhe-me.
I – Pré-história:
Quando começa uma história? Era uma vez… A deste navegante não teve essa vez. Ainda está começando, junto com os raios da manhã. Toda manhã.
Comecemos, pois, da pré-história. Parto sombrio. Relutante. O nascer advindo do desespero e do engano. Fórceps de Deus marca as têmporas, no esforço de trazer ao mundo este rebento arrebentado pelo cinismo que mascarava a fragilidade, pelo ceticismo que cobria a inocência de quem acreditava em tudo.
Arrancado, visceralmente, puxado para fora, gritando de dor. No meu lar, ruínas de lar, olhei para cima pela primeira vez. Pela primeira vez, vi meu Pai, meu Senhor, o que me fez e me comprou.
Nasci na dor, na cinza da alma. A cinza do cinzeiro, já usado, portanto sem valor, a não ser denunciar o próprio vício.
Nasci no escuro. Não enxergava um palmo à frente. Juntando os caquinhos da minha alma às apalpadelas. Super Bond nela.
Senti falta de babá. Esquisito, bebê com cara de coroa, todos me achavam mais capaz do que sempre fui. As marcas na têmpora ardiam, como ainda ardem. Cresci sozinho, pulei o Bê-a-Bá, me limpei como pude. E me virei como deu.
Nesta primeira fase, ainda não via. Demorei muito a começar a enxergar. E nem queria. Enxergar é ver, ver é contemplar o real. Enxergar é ampliar as percepções, o mundo, o horizonte. E eu não tinha nem nervos nem estômago para isso. Eu não tinha 1,10m, portanto não andava em montanha russa.
Apenas confiar. Frágil, só, pequeno, cego. Que podia fazer além de confiar Naquele que me trouxe à vida? Sem questionamentos, sem anseios, nem expectativas. Precisamos de tão pouco!
Fui deslizando pelos dias. Amizades descartáveis, pratos descartáveis, copos descartáveis. Fui passando ao sabor do vento, noites ao relento, dias sonolentos. Fui deslizando pela vida. As lembranças se embaralham pela falta de profundidade – tudo era raso, quando deveria ser raro.
Amigos, Irmãos.
Raros, únicos.
Esteio na dor,
Motivo pra rir.
Amigos, Irmãos
Nem tempo, nem espaço.
Além dos limites.
Além das prisões.
Espíritos afins, avante!
Cantemos.
Celebremos o que está além de nós.
O que está em nós.
O singular compartilhado,
Tornando-nos plurais.
Espíritos afins.
Espíritos unos.
Irmãos.
Um.
Fui deslizando. Aos meus amigos, meu amor. Aos outros, sei lá, não perco tempo com besteira.
II – Viajantes
Para falar de mim, tenho que falar dos que também navegam. Cada um do sue jeito, dão um colorido a mais aos mares e rios. Conheci alguns que singram em caravelas. Aquela sabedoria ancestral, a força, as velas içadas. Acolheram-me como se as velas deflagradas fossem redes para embalar sonhos tranqüilos, soneca em casa de avó. Ensinaram-me sem saber que o faziam, como quem compartilha um doce. Beijaram-me a fronte, sem se importar se eu era um melequento. Segurança, paz. Que bom saber que existem pessoas que depois de tantos anos dançando com as ondas, permanecem imponentes, cientes da sua experiência. Que frota linda o meu Almirante tem.
Outros preferem lanchas. Jovialmente encaram as ondas, riem das valas deixadas pelas embarcações maiores. Aos poucos, aos muitos, não importa, o que vale é a velocidade. Puerilmente ousados lançam-se de cabeça, intensos, apaixonados, apaixonantes. Verão sempre! No máximo uma primaverazinha! De vez em quanto.
Infelizmente, conheci o remake contínuo do Titanic… Sempre orgulho, entranhado como se fora seu gene. A beleza ostentada, os porões abarrotados de ratos, dejetos, doentes, sujos e pobres. Celine Dion está rouca! Canto forçado, estranho, infeliz, da tragicomédia humana, da loucura que originou o Mal. Celine Dion está rouca! Canta, canta e grita a morte anunciada pela presunção. Celine Dion está afônica… remake contínuo do Titanic. E ele sempre vai a pique.
Quanto a mim, vou de “pô-pô-pô”, onomatopéia para o barquinho amazônico, do rio-mar barrento. Romântico, com os botos e pirarucus à volta. Com o cheiro de mangue, com fiapo de manga no dente. Vou de “pô-pô-pô”! Feio, pequeno. Porém de verdade. Não sou de Holywood. Sou o barquinho que quer glorificar seu Deus pela singeleza.
Já não tenho a velocidade frenética das Lanchas. Talvez nunca chegue a Caravela Mas posso apreciar a paisagem.
Céu, terra, rio, mar.
Pontinho preto no meio de tudo?
Eu.
Respingado, saudoso, corajoso, perdido.
Respingado de Céu,
O máximo que posso conter
São gotas.
Orvalho, chuvisco, gotas.
Amor e graça em gotas.
Pontinho preto encharcado de Céu?
Eu.
Saudoso de terra.
Da terra em que fui gerado.
Do colo de mãe.
Carinho de pai.
Terra nas unhas, pé machucado pelo futebol ruim.
“Chuta a bola e não o chão, menino!”
Choro, casa, colo, carinho.
Pontinho preto choroso da terra?
Eu.
Corajoso de rio.
Um curso, correnteza.
Uma imediata no mesmo barco.
Planos, sonhos, metas
Avolumando-se juntos as águas.
Riachos deságuam, impulsionam, empurram pra frente.
Pontinho preto desafiando o rio?
Eu.
Perdido no mar.
Imenso, desconhecido, mar.
Muito maior que as gotas.
A terra engolida por suas ondas.
O rio bebido por sua força.
Final de tudo, o mar.
Lá onde meu Almirante está.
O extraordinário, imenso, intenso.
Pontinho preto absorvido pelo mar?
Eu.
Ao meu Almirante, louvores. Aos navegantes, coragem! À minha imediata, beijinhos. Aos que permanecem no porto, meus pêsames.
III – Percepções:
Meus sentidos foram se abrindo. Gradualmente, sem alarido, sem esperar. Como descrever o som ao surdo? Sentindo a vibração causada por cada nota. Sentido que cada nota encontra o eco no interior do ser. A certeza do certo confirmada pela alma – escavação arqueológica do espírito. Pulsa, bate, ecoa, ressoa. Milagre da união de notas avulsas, metamorfoseando-se em melodia. Existe música, sons em poesia. A Voz guia os passos de quem ainda não vê. A Voz firme, cálida que pronuncia seu nome, irresistível. Estranhamente familiar, mesmo a quem nunca a ouviu antes. A Voz geradora de vida, que faz o coração bombear, que abre os nossos pulmões no primeiro dia, e o fechará no último. A percepção do infinitamente belo.
Cheiros me confundem, apontando para sabores não descortinados pelo palato. Cheiros que vão marcar a trajetória, depois serão “start” da memória. Gostos. Dias de mel, outros de ervas amargas. Gosto do amargo realça o doce.
Ainda na câmara escura. Tato. Eu sinto, logo?… Tocar o outro, saber que a vida também está ali. Tocar o outro, quebrar as fronteiras entre o eu e o tu. Ser tocado, como é bom chorar acompanhado! Tu me entendes? Sabes que existe alguém além de ti? Quero quebrar esta fronteira maldita que deixa a todos entrincheirados dentro de si. Eu sinto, logo?… Sinto muito por sentir tanto. Sinto muito por sentirmos tão pouco.
O mundo cresce na medida em que as percepções se expandem. Posso viver sempre no quartinho escuro, fechado em mim. Ou posso abrir a porta. Mito da Caverna de dentro de nós. Tudo é mais. É maior.
Tenho que sair do quarto e ver a rua. Outros andam as tontas como eu. Outros tontos se escondem em baixo da cama. Tenho que sair. Ruas, bairros, cidades. Tenho que sair. Já não basta a rua, preciso da Lua.
Vejo vultos. Imagens imprecisas, turvas como os meus olhos. Tudo está lá, eu que não vejo. TV preta e branca, antena meio torta. Por que não ajeito? De que jeito, se não me percebo?
O mundo não é preto e branco, nem em duas dimensões. O mundo não é uma tela de pintor daltônico.
Ver.
Luz que clareia o dia.
Quero ver.
Forte como o meio dia.
Encandeado, ofuscado no primeiro instante.
Maravilhado pela aurora.
Ver.
Tudo fica claro.
Não em si, mas nele.
Não posso ver o sol, mas vejo tudo por ele.
Como pude ser tão cego!
Tão voluntariamente cego.
Ver.
Delicado como o luar
Refletindo uma outra glória,
Mais distante.
O belo, o puro, o digno.
Luar.
Ver.
Triste como o ocaso.
A morte e esperança do novo dia.
Amado como o ocaso.
Promessas do que a noite trará.
Palheta das infinitas cores
Obra de arte nunca concluída
Vida.
Cada segundo revelando novos tons
Aquarela.
Cada instante vivido, puro impressionismo.
Impressionando-nos pela beleza sem igual.
Vida Bela aquarela.
Somos co-pintores dela.
TTTRRRIIIIIMMMMM!!!!!! O despertador toca. Acorda, vai escovar os dentes. Acorda. Abra seus olhos. O dia já começou.